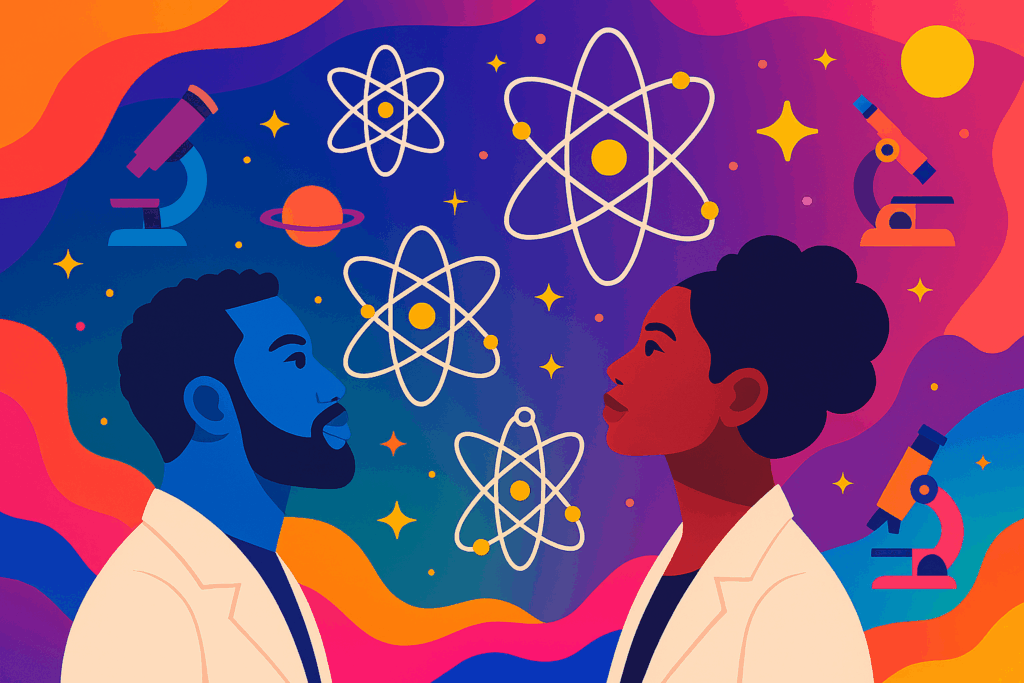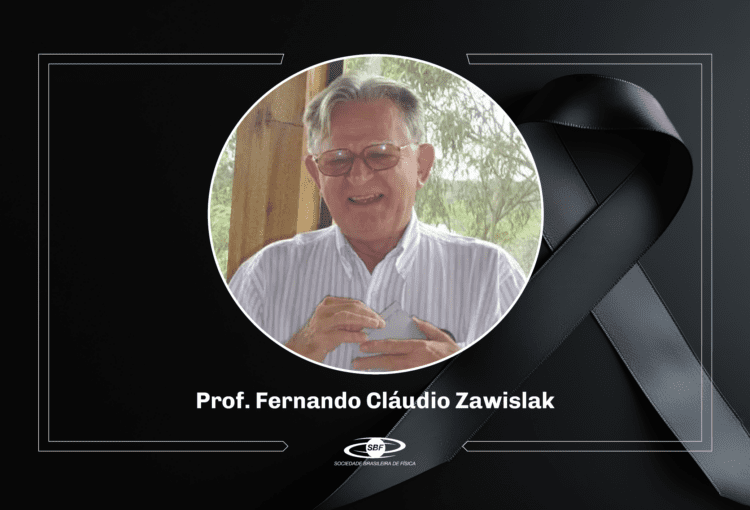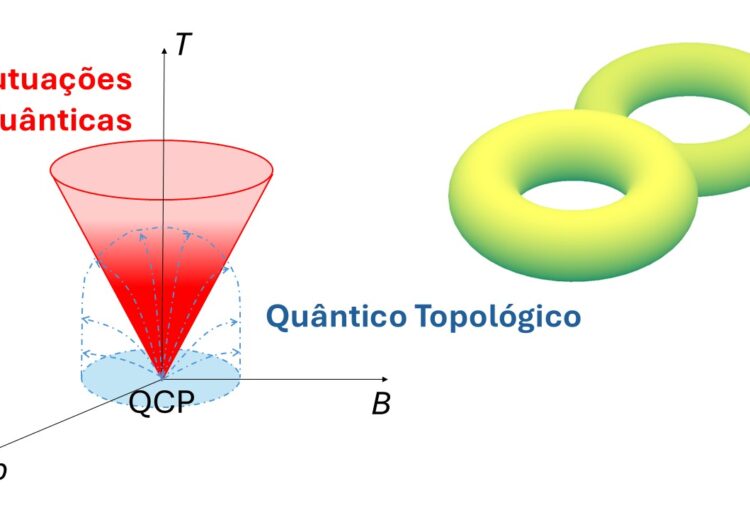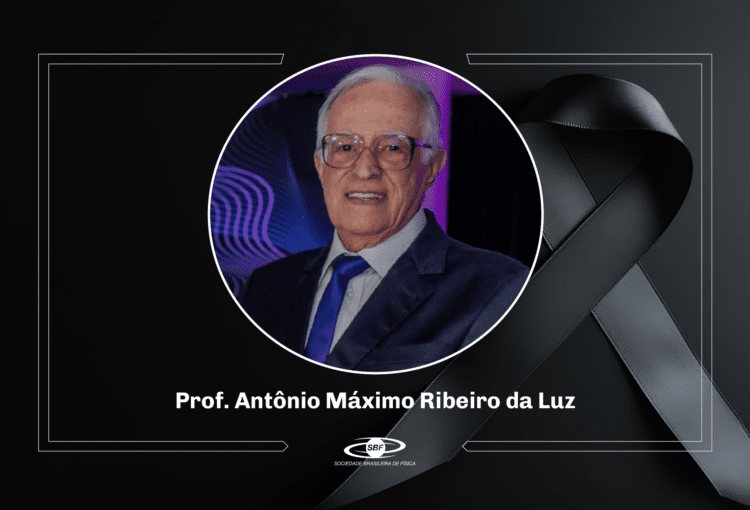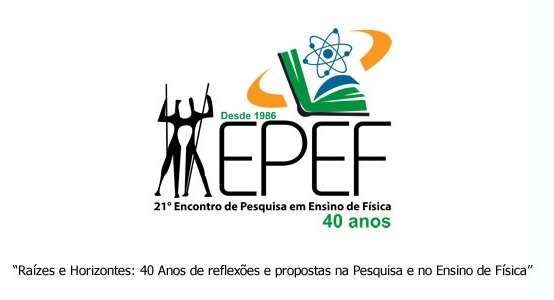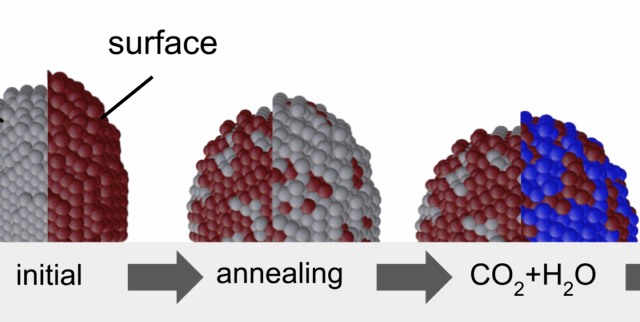“Nós somos o útero do mundo. Mais de 80% da vida humana aconteceu no continente africano. Muitos dizem que a África é o berço da humanidade. Mas isso reduz a nossa importância. Um berço é para bebês. A humanidade não era um bebê quando viveu na África; era adulta, sábia. O que deixamos não foi um berço, foi uma casa. Um templo. Uma universidade. Uma indústria. Deixamos sabedoria, espiritualidade, ciência, conhecimento do cosmos. Não apenas um berço.”
A frase é, segundo o jornal Brasil de Fato, da rainha Diambi Kabatusuila Tshiyoyo Muata, soberana tradicional do povo Bakwa Luntu, da República Democrática do Congo, que no dia 12 de novembro esteve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a fim de participar da conferência “Confluências do Real: um Diálogo Bantu-Brasil”.
Essa ideia reforça as aulas do professor Dr. Senakpon Fabrice Fidèle Kpoholo, da República do Benin, no Minicurso Africanidades, da Axovi Educação. No curso, ele explica o florescimento da civilização na África, a união do Nilo Alto e do Nilo Baixo, os nomes ancestrais do Egito, que foram apagados pela tradução dos gregos, pela posterior dominação romana e europeia. E, segundo Senakpon, após 17 mil anos de ascensão e queda do Império Egípcio, grande parte das nações africanas foi se formando, inspirada em muito pela experiência do Egito antigo.
O professor Senakpon não aborda o que a imprensa já amplamente divulga: fome, miséria, guerra e devastação do continente africano, mas sim a herança ancestral da filosofia, da religião, da história da humanidade. E nós, pela filosofia africana, já somos ancestrais, pois esse conceito não engloba apenas aqueles que já vieram antes de nós, mas a herança que vamos deixar daqui a oitenta, cem anos. De acordo com Senakpon, todos temos origens na África há 300 mil anos. Foi apenas há cerca de 200 mil anos após o florescimento do “homem que sabe” (homo sapiens), que ocorreu a migração para outros continentes.
Durante muito tempo, a narrativa dominante ensinou ao mundo que a ciência nasceu na Grécia e floresceu na Europa. Mas documentos, inscrições e análises históricas revisadas mostram que a base da matemática, da astronomia, da medicina, da escrita e até do calendário usado pelo Ocidente tem origem africana, especialmente no Egito negro. O professor Senalpon apresenta no curso o livro “A origem africana da civilização”, de Cheikh Anta Diop, que demonstra como as raízes da ciência moderna estão profundamente ancoradas em sistemas de conhecimento desenvolvidos milhares de anos antes do surgimento da Europa acadêmica.
Diop afirma de modo direto que a ciência moderna não surge na Europa, mas deriva de um corpo de conhecimento egípcio de origem africana. Ele escreve que ideias consideradas fundadoras da ciência ocidental são, na verdade, heranças diretas da cosmologia africana, como a matemática de Pitágoras, a teoria dos quatro elementos de Tales de Mileto, o materialismo epicurista, o idealismo platônico, o judaísmo, o islamismo e a ciência moderna estão enraizados na cosmologia e ciência egípcias.
O Egito negro não apenas criou sua própria ciência, como fundou as bases da ciência europeia. Diop reforça essa tese ao afirmar que os povos africanos, particularmente os que habitaram o Vale do Nilo, criaram, antes de qualquer outra civilização, os pilares do conhecimento científico. Os africanos “foram os primeiros a inventar matemática, astronomia, o calendário, ciências em geral, artes, religião, agricultura, organização social, medicina, escrita, técnica e arquitetura.”
“Quando aprendemos que povos africanos desenvolveram matemática, astronomia, engenharia e medicina antes mesmo de muitos avanços europeus, rompemos com uma narrativa colonial que nos convenceu de que pessoas negras “chegaram atrasadas” à ciência. Não é verdade. Nós sempre estivemos lá”, afirma o físico Neilo Marcos Trindade, professor do Instituto de Física da USP e vencedor do Prêmio Anselmo Salles Paschoa de 2024, concedido pela Sociedade Brasileira de Física (SBF).

“Isso, para um estudante negro, muda tudo: a autoestima, o sentido de pertencimento, a ambição profissional. A escola e a universidade deixam de ser espaços em que ele está ‘de favor’ e se tornam espaços de herdeiros do conhecimento. Para mim, o ensino de história da ciência no Brasil só será completo quando incluir essa dimensão ancestral, que fortalece identidades e democratiza o futuro da ciência”, afirmou o cientista, em entrevista por e-mail ao Boletim SBF.
Trindade lembra que sua trajetória começou na periferia, no interior de São Paulo. “Cresci em condições difíceis, só com a minha mãe, ouvindo que estudar ‘não levaria a lugar nenhum’. Quando comecei a apresentar trabalhos em congressos e a circular em espaços acadêmicos, senti que a minha presença era sempre colocada à prova: desconfiança, hostilidade, avaliações diferentes das de colegas brancos. O racismo raramente era direto; surgia em frases como: ‘Não é o seu momento agora.’; ‘Você não está pronto para essa vaga.’; ‘USP ou Unesp não são para você.’ Foram experiências duras, mas também formadoras. Elas me ensinaram que o cientista negro não luta apenas com equações e experimentos, mas com barreiras invisíveis que tentam apagar nosso protagonismo. Isso me fortaleceu e me deu consciência do compromisso que tenho em abrir espaço para quem vem depois.”
Trindade acredita que a física brasileira poderia se beneficiar de uma integração maior entre epistemologias africanas, saberes tradicionais e pesquisa acadêmica contemporânea. “Eu acredito profundamente que diversidade é motor de excelência científica. Cada trajetória carrega uma forma de ler o mundo, e isso impacta diretamente o tipo de pergunta que fazemos e os problemas que buscamos resolver. Integrar epistemologias africanas e saberes tradicionais na física não significa abandonar o rigor científico, mas significa expandir nossas possibilidades de investigação. Uma ciência construída por pessoas de diferentes origens se torna mais inovadora e mais conectada com a sociedade real. Ela se torna uma ciência que serve a todos.”
Taneska Cal, mulher preta cis, mãe de Makini, física, pesquisadora e integrante da comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Igualdade (JEDI) da Sociedade Brasileira de Física (SBF), afirma que em “um contexto hostil de estruturas declaradamente colonialistas, racista e a cultura antinegro institucionalizada, o cientista africano Cheikh Anta Diop assumiu o embate acadêmico”.
“Ele é uma inspiração! Diop apresentou modelos, experiências, evidências e narrativas a partir de epistemologias contra-hegemônicas. Foi um cientista com perspectivas inter- e transdisciplinares que sustentou a tese de que as ciências surgiram na África. Sendo a humanidade oriunda do continente africano. Perseguido durante sua vida, ele teve seus achados e trabalhos confirmados em várias pesquisas. Atualmente, virou jargão para chamar o continente africano de berço da humanidade, nem sempre foi assim”, explica Taneska.

Segundo ela, a Física já era desenvolvida por civilizações africanas em períodos que antecedem as demarcações ocidentais sobre a natureza das ciências. “Entender isso pode ajudar a romper com esse modo discriminatório de construir, ensinar e divulgar ciências. Para Katemari Rosa, Alan Alves Brito e Bárbara Carine no texto “Pós-verdade para quem? Fatos produzidos por uma ciência racista”, publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física (2020), a história da ciência moderna e contemporânea promoveu o epistemicídio, demarcação das ciências hegemônicas e eurocêntricas. Essas que foram fundamentalmente constituídas pela apropriação indébita, invisibilidade de povos africanos e a cultura antinegro”, afirma a pesquisadora, em texto enviado por e-mail.
Escravizados e Imigrantes
O colonialismo, fundamentado na ideia de que haveria uma evolução natural das civilizações e que, portanto, tudo o que fosse diferente da sociedade europeia era considerado como atrasado, devastou a África e criou um dos maiores crimes da humanidade ao transformar em escravos o povo negro. Segundo o jornalista Laurentino Gomes, no livro “Escravidão::do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares” (Editora Globo), 12,5 milhões de pessoas foram violentamente retiradas da África e enviadas para as Américas, de acordo com o banco de dados Slave Voyages.
Mais de 2 milhões de pessoas morreram só na travesseia do Oceano Atlântico e, dos que sobreviveram, 4,9 milhões desembarcaram no Brasil entre 1500 e 1850 para serem escravos em plantações de cana-de-açúcar, minas de ouro e lavouras de algodão e café. Regina Maria D’Aquino Fonseca Gadella em sua tese de doutorado, defendida em 1982, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo “Os Núcleos Coloniais e o Processo de Acumulação Cafeeira (1850-1920): Contribuição ao Estudo da Colonização em São Paulo” relata não apenas a busca por imigrantes após a abolição da escravidão, mas dá um panorama sobre os horrores do pensamento da época.
De acordo com a tese, a prosperidade do Segundo Reinado na segunda metade do século 19 era reflexo, em grande medida, da expansão do cultivo e aumento das exportações brasileiras de café. Entre 1850 e 1860 haviam sido exportadas 26.253 milhões de sacas de café, representando 48,7% das exportações totais. No decênio entre 1880 e 1890, as exportações somaram 48,217 milhões de sacas, representando 60,2% da pauta exportadora do País.
A expansão do preço do café, segundo a autora, ocorrida em 1857, retardou por três décadas a adoção do trabalho livre e aprofundou a exploração dos escravos, mesmo quando o tráfico internacional africano havia sido proibido. Isso acabou elevando o preço dos escravos, levando os fazendeiros a elevarem a proporção do capital imobilizado, transformando o escravo em verdadeiro “capital fixo”, sobre o qual banqueiros aceitavam garantias hipotecárias. O valor do escravo chegava a representar até 90% da fazenda.
“O sistema escravagista só entraria em crise após 1879, quando se esgotam as fontes externas, fornecedoras de escravos provindos do Norte e Nordeste do País, proporcionando grande elevação do preço desta ‘mercadoria’. Tudo indica que também dobrou a exploração do trabalho escravo, neste período, aumentando o índice de mortalidade da população infantil, sobretudo após a promulgação da Lei do Ventre Livre”, explica a autora, em pesquisa que este repórter realizou no documento original, na Biblioteca da PUC-SP, em 2015.
Com o alto preço dos escravos, os fazendeiros os concentraram na lavoura de exportação, tendo a necessidade de comprar alimentos básicos como milho, feijão e arroz nos centros urbanos, que por sua vez os importavam dos Estados Unidos e da Europa. Com a abolição, aliada obviamente aos altos preços da escravidão, o País começa a receber mais imigrantes europeus, que uma vez aqui, eram mantidos em regime análogo à escravidão.
Um equilíbrio distante
Há, no entanto, uma grande diferença entre ex-escravizados e imigrantes brancos europeus; estes, chegaram com a ideia de fazer fortuna no País, apesar de tantas barreiras e violências; aqueles, já exauridos pelo crime que sofriam, carregaram o preconceito baseado na cor, e viveram à mingua, sem terra para plantar, sem comida, sem futuro. E as injustiças continuam até hoje, com falta de moradia, educação, saúde e condições dignas de desenvolvimento. Políticas públicas têm sido implementadas, mas ainda não é suficiente.
“Buscar reflexões sobre as bases da Ciência Moderna e Contemporânea com criticidade para entender que a lógica das relações raciais e suas estruturas são excludentes, e ainda presentes em nossa sociedade. Os fatores sociais, políticos, culturais, econômicos, entre outros, atuam diretamente na construção, divulgação e acesso às ciências. Afinal, a Física é um construto humano. Nesse sentido, os esforços para tornar esse campo científico com mais justiça, diversidade, igualdade e equânime”, afirma Taneska.
“Um estudo diagnóstico da Sociedade Brasileira de Física (SBF) identificou disparidades verticais de exclusão que vinculam mulheres negras na Física à invisibilidade (ANTENEADO; BRITO; ALEXANDRE; D’AVILA, 2020). Os desafios persistentes na representação permanecem, como a baixa proporção de mulheres e pessoas negras na Física, bem como as dificuldades estruturais que esses grupos enfrentam em ambientes acadêmicos e pesquisas de ponta”, afirma ela.
Para a pesquisadora, as políticas de ações afirmativas são necessárias para reparar as exclusões e combater o racismo estrutural. A política de cotas raciais é essencial para reduzir desigualdades raciais estruturais, pois ataca a base do sistema de barragem brasileiro; é um efeito da dificuldade de ordem estrutural, institucional e subjetiva.
“No significado estrito barragem são barreiras que impedem o fluxo, contém, restringe, impede e interrompem um sistema historicamente projetado para expulsar, filtrar e controlar o acesso da população negra aos circuitos formais de poder simbólico, segundo argumentei na minha dissertação de Pós-Graduação na Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana para obtenção de grau de mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências em 2021”, explica a pesquisadora.
“A Sociedade Brasileira de Física, a partir de seus associados, comissão, estudos, apoios, vem compondo ações para enfrentar as desigualdades impostas nas relações raciais. Busca contribuir para a promoção de maior equidade no campo da Física no Brasil, especialmente a comissão JEDI, que visa incentivar maior diversidade na comunidade científica”, afirma.
Em novembro de 2024, Taneska teve a missão de representar a física brasileira na NSBP Joint Conference, reaizada em Houston, no Texas. Em painel apresentou “Physics in Brazil: Profile and Diversity in Science”. Essa foi uma oportunidade de aproximar as físicas e os físicos negros brasileiros, norte-americanos e espânicos. De 3 a 5 de dezembro de 2025, em Salvador (BA), irá acontecer 1º Workshop de Físicas(os) Afrodescendentes Brasileiras(os) e Americanas(os) (WFA). Esse evento é um marco histórico que reunirá físicas e físicos negros diaspóricos para dialogar sobre pesquisas, formar redes e projetar ações futuras.
Atualmente, a JEDI abriu seleção de novos membros, no período de 07 a 24 de novembro, para pessoas interessadas em integrar a comissão. A JEDI trabalha transversalmente nas atividades da SBF, realiza encontros temáticos, participa de seleções e premiações. A finalidade é garantir espaço de diálogos e ações para a superação do racismo e de outras formas de exclusão.
“Eu quero ver mais pessoas negras entrando (nas ciências exatas), permanecendo e liderando na ciência brasileira. Para isso, considero essenciais programas de apoio estudantil, redes de mentoria, financiamento específico para grupos sub-representados e políticas institucionais que assegurem protagonismo e não apenas presença. Meu compromisso é contribuir para que jovens negros encontrem portas abertas na ciência, com caminhos mais justos e resultados que transformem comunidades e o país”, afirma Trindade.
“Na academia, o racismo se manifesta principalmente de forma velada: dúvidas constantes sobre a competência, critérios subjetivos de avaliação e barreiras ocultas para a ocupação de espaços de liderança. É indispensável reconhecer que essa estrutura desigual existe e que precisa ser combatida com políticas contínuas, formação antirracista, transparência em processos de progressão na carreira e valorização efetiva da diversidade. O objetivo é que pesquisadores negros não precisem provar o tempo todo que merecem estar onde estão, que possam exercer seu trabalho com dignidade e oportunidades iguais”, afirma o cientista da USP.
Um canto de afirmação
A Semana da Consciência Negra não basta para discutir o tema, que deveria ser debatido o ano todo, o que tem sido feito graças ao JEDI. E essa luta ecoa um sonho antigo e importante, com representatividade forte também na arte: um evento marcante ocorreu na noite de 22 de novembro de 1981, em plena Ditadura Militar. Milton Nascimento e setores progressistas da Igreja Católica realizaram na Praça do Carmo, no Centro do Recife, a “Missa dos Quilombos”, que virou disco em 1982, com a fusão dos tambores e melodias que penetram fundo na alma.
Organizada por Dom Hélder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, a missa reuniu mais de 6 mil católicos progressistas, com a participação do poeta Pedro Tierra, no mesmo lugar onde a cabeça do líder quilombola Zumbi dos Palmares foi exibida depois de sua execução, em 20 de novembro de 1695.
Em discurso corajoso e inspirador, Dom Helder Câmara evocou a defesa dos negros, lembrando também que seus problemas estão ligados a todos os problemas da humanidade, na música “Marcha Final (De Banzo e Esperança) / Invocação à Mariama”, que antecede ao ápice da canção “Pai Grande”. Ele defendeu ainda, de forma emocionante, o fim da “maldita produção de armas” e um mundo sem escravos, mas de irmãos. Que a chama da vela dessa reza nunca se apague para que a igualdade racial e econômica e a paz se tornem uma realidade no País e no mundo.
(Colaborou Roger Marzochi)